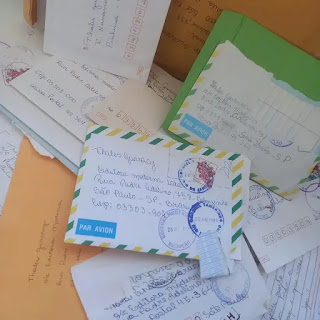A longa escadaria em espiral, até o último andar, uma só porta e o quarto. Ocupava, inteiro, um grande sótão: a cama de casal num mezanino baixo, uma cozinha com um balcão, uma sala de estar com uma escrivaninha de trabalho; à esquerda, a passagem para o segundo quarto, amplo, com uma banheira ao centro; a cama de madeira escura, diante da grande lareira de granito branco.
A longa escadaria em espiral, até o último andar, uma só porta e o quarto. Ocupava, inteiro, um grande sótão: a cama de casal num mezanino baixo, uma cozinha com um balcão, uma sala de estar com uma escrivaninha de trabalho; à esquerda, a passagem para o segundo quarto, amplo, com uma banheira ao centro; a cama de madeira escura, diante da grande lareira de granito branco.
Teresa achou graça na porta de masmorra, baixa e pesada, que dava acesso ao banheiro, de teto inclinado pela meia água. Passeou os olhos pelos móveis antigos: o baú do tempo das diligências, o mobiliário Luis XV, a cama pesada de cabeceira alta, cenário de vidas e horas inconfessáveis.
As malas nem foram desfeitas: Teresa e Marcel mergulharam nos lençóis flutuantes, entre os travesseiros de penas, a pele morena dela na tela de branco alvíssimo, os cabelos de graúna espalhados, ondulando sobre as dobras do algodão indiano.
O cheiro dos corpos misturados, a vontade primitiva, a matrioska dos desejos, desvelados um atrás do outro. Mesmo cansado de viagem, Marcel não dormiu: preferiu ver Teresa na penumbra, adormecida ao seu lado, enfim serena e apaziguada, joia viva sobre o colchão.
Pela janela medieval se avistava os telhados do casario, mas para eles Paris estava ali dentro, à luz de do abajur art déco: languidez e lassidão. Dormiam e acordavam enlaçados, amantes num refúgio, esconderijo de tudo: da vida lá fora, do passado, deles mesmos, da luz e da escuridão.
Tinham saído do Rio de Janeiro, sem dizer a ninguém onde iam, com quem iam, nem a razão. Eles mesmos não sabiam ao certo o que os movia, exceto que, fosse como fosse, a vida levava um para o outro. E só.
Teresa embarcou no aeroporto sem malas, livre de tudo, o avião apenas como ponte para ele, que já a esperava. O momento de um para o outro, única coisa de que precisavam, única destinação.
Deixaram para trás a vida anterior, os filhos, o medo. Não, o medo, não. Pairava a sombra do exame de Teresa, um indicador que não podia dar mais que 20, e dava 1000. Eles não sabiam o quão grave podia ser, qual era o tumor, nada, só aquele número: na volta, com mais exames, saberiam melhor.
A dúvida pode ser o inferno da alma e eles sabiam que o passado pesava: a vida anterior os minara. A tristeza é somática, domina o ânimo, depois penetra nas células, corrói os tecidos. Contra ela o corpo sofrido se rebela, avisa, ordena a revolta.
O futuro ninguém sabia, mas eles se refugiavam na certeza dos braços um do outro, sem outros pensamentos, sem outro sentido, sem outra razão. Passavam o dia enlaçados, imersos em sussurros e planos, as coisas em comum: o amor à palavra, a necessidade de leitura, não dos livros, mas dos sentimentos, penúria de que tinha vivido no deserto dos outros, o mundo onde você sempre serve à vaidade de alguém e sempre acaba sozinho.
As conversas sussurradas traziam o amor de volta, brigado, mordido, suado, até que tinham de trocar de cama, tão molhados ficavam os lençóis. Depois ele lavava os cabelos dela, um ritual lento, longo e solene, teatro de amor, na banheira feita de palco.
Ela secava as melenas no espelho antigo, usando ao mesmo tempo dois secadores, uma dança mágica de cabelos ao vento; ele ria e admirava a destreza, cada movimento de Teresa era graça, beleza e arte.
Saíram do quarto pela primeira vez no dia seguinte, depois das quatro da tarde, e só porque precisavam comer.
Paris no Natal estava frio, Paris chovia, e a melhor hora era voltar, subir aquela escadaria, esconder-se no sótão, sua nova casa. Moravam agora dentro de um quarto e, naquele quarto, um dentro do outro.
No dia seguinte, fim de tarde, breve interlúdio: atravessaram a ponte Solferino, dos cadeados, onde tanta gente deixava sua promessa de amor, e seguiram pela quai da Rive Droite. Ele a fotografava, usando a boina dele e calça xadrez - musa de uma belle époque que ele mesmo inventou.
Passaram pelo mendigo adormecido sob a Pont du Carrousel; saíram da margem e entraram nas Tulherias, pisando o cascalho entre os esqueletos das árvores invernais.
O sol súbito caiu sobre a água da Grand Bassin Ronde, a piscina que separa o palácio do Louvre de seu imenso jardim. Momento iluminado, ou mensagem divina, Teresa despertou de repente - que bonito, onde estamos, perguntou.
As luzes da Saint Chapelle, pausa para uma oração. A noite para sair: o restaurante japonês, invenções sobre um prato; cruzaram o canal sobre o Sena e centenas de pessoas foram se juntando a eles pelo caminho, passos ressoando na calçada, em meio ao frio da noite.
Da passarela em arco, avistavam ao longe a tenda iluminada do Cirque du Soleil, nave esplendorosa brilhando branca na noite, ao lado do rio.
Corteo: espetáculo da vida assistindo a morte, ou da morte assistindo a vida. Algo tão igual ao momento deles, tristeza e alegria, esperança e medo, misturados em turbilhão. Era isto, a vida: uma bicicleta sobre a corda, rumando ao céu; a beleza de viver até o fim, seja quando e onde for, arriscando tudo.
Por fim chegou a véspera do Natal, o dia receado, que ambos passariam longe das famílias: receio da opressão da saudade, de ter estragado tudo; a carga do sofrimento próprio e dos outros; o abismo entre onde estavam e o que ficou para trás. Porém, o futuro eles iam construir juntos, para viver não como outros queriam, mas como eles mesmos, do jeito que eram, em estado verdadeiro e puro e claro.
Enquanto pelo mundo crianças recebiam os presentes de Natal, famílias estalavam copos e talheres em festa, eles anestesiavam a alma na plateia da Opera de Paris. O balé Onéguine: uma tragédia de amor.
Todo grande amor tem algo de trágico: assim era também o amor deles, grande, feito de dor por muitos lados, mas era também o que os unia. Transmutariam a tristeza em felicidade, contagiaram a todos com aquele amor, que transbordava para ser dividido, dando a todos esperança, sonho de final feliz.
No intervalo do espetáculo, uma taça de champanhe na sacada, o brinde de Natal, feito como juramento: nós dois consertaremos tudo; mesmo contra tudo, tudo podemos juntos, esta é a força maior.
Saíram caminhando abraçados pela ruas enfeitadas de luzes vermelhas; entraram no Café del' Opera, para uma taça de vinho, entre as mesas vazias da meia noite natalina. A cidade estava suspensa, mas eles sorriam, mais leves. Passara o mais difícil e eles se deixavam embalar pelo mel de um dia inteiro de cumplicidades.
Breves impressões da vida lá fora: O Pensador, no Museu Rodin ("já vi isto aqui", disse Teresa); madeleines num café acolhedor; o silêncio sagrado do velho templo de Saint-Germain-des-Prés. Por fim subir de novo a escada, a sensação de voltar ao abrigo do quarto, a eles mesmos, sua primeira casa, das muitas que teriam depois.
O frio ficava do lado de fora, de fora ficava até mesmo o medo, com o passado de desilusão. Eles não precisavam de mais nada, Paris era ali, mas seria em qualquer lugar: viveriam, sobreviveriam, Marcel salvaria Teresa do câncer, da tristeza, do abandono, que também era seu.
Teriam a felicidade mais pura, reunindo novamente a todos, para outros natais, contagiados por aquela Paris que eles levariam para sempre, onde fossem, transbordantes de amor.
*
Marcel olha as fotos antigas, abre o navegador e pesquisa: Hotel del' Université.
Há um passeio virtual; ele sobe a escadaria, usando o dedo indicador sobre o laptop, e chega ao último andar.
O antigo sótão, onde ficava o quarto Saint Germain, foi dividido em quartos diferentes, com paredes brancas e mobiliário contemporâneo. Ainda há janelas para o casario de Paris, mas a grande lareira de mármore, a banheira, a história, tudo desapareceu.
O texto informa que o hotel passou por uma renovação. Remexendo lembranças, ele se dá conta de ter estado ali uma vez anterior, muito tempo antes daquela semana de Natal em Paris.
Tinha pouco mais de vinte anos quando, passando ao acaso na rua, entrou no hotel, para conhecer. Queria ser escritor e soube que Hemingway, quando estava na cidade, se hospedava ali. Subiu ao quarto do último andar, levado por um camareiro, com a chave na mão, para ver onde ele se hospedara.
Olhou o grande sótão, com jeito de casa no céu; parou diante da janela, e pensou: um dia vou publicar livros, terei dinheiro e trarei para cá alguém especial, para a minha melhor história de amor.
Depois, esqueceu tudo, ou quase: escolheu aquele hotel por lembrar vagamente que um dia quisera hospedar-se ali. Uma mensagem no tempo, para o dia em que, amadurecido, cumprisse a antiga promessa, sem saber.
Marcel faz uma busca pelo site. Não há mais qualquer referência a Hemingway. Teresa vive, mas não está com ele. Depois de tantas casas, nas buscas de quem nunca achou algo o bastante, nunca parou: espelho na impermanência, na inquietação. Os carentes de um amor que não existe, ou sempre muda de lugar: destruidores de corações.
Nao a reconheceria se a visse na rua: aprendera que se pode sentir luto por alguem ainda vivo, mas que nao erea quem se pensava, como se tivesse morrido, ou ainda pior, nunca existido. Já não existe o quarto, não mais existe Teresa de Marcel, mas ele é o mesmo. Não só o homem daquele Natal em Paris. É o rapaz magro e imberbe que andava no inverno parisiense de capa de chuva, sem dinheiro para comprar um casaco de verdade, passando fome e frio, sonhando com a vida de Hemingway.
Sim, isso ficou: sonho. A entrega sem receio, a vontade de amar, de sempre experimentar a vida intensamente, e escrever.
Ainda.