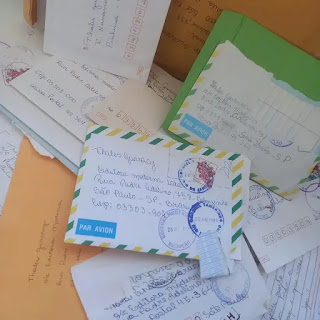Levei muito anos para escrever sobre meu grande amigo.
Dezesseis anos e um pouco mais.
Ainda é difícil, e sua história, às vezes engraçada, outras heroica, às vezes
comovente, é também cercada de uma aura de mistério, talvez de fantasia.
Você pode achar estranho, mas falo de um cachorro. Uma amiga minha, Eliana
Simonetti, jornalista que trabalhava comigo em Veja, tinha uma cadela que
ganhou uma ninhada de dogues alemães, da variedade arlequim, de pelagem
malhada. Separou para mim o maior deles, meio folgado, e comilão, para me dar
de presente.
Bichinho que já nasce meio grande, dizia ela que, quando acabava com a ração,
ele se enrolava e dormia dentro do prato da comida.
Dei-lhe o nome de King.
Eu sempre quis ter um cachorro, a infância inteira, mas meu pai nunca deixou.
Aos 36 anos, achava que era hora de fazer todas as vontades não satisfeitas e
acabara de comprar um sítio, onde pretendia construir uma casa. Não imaginava
que teria, porém, um cachorro daquele tamanho, para matar qualquer vontade.
No sítio, que estava ainda em obras, não havia ninguém para cuidar do bicho. Ele não caberia no apartamento de São Paulo. Eu sempre quis ter
cachorro, repito, mas não tinha onde colocar um bicho que, segundo diziam,
crescia até ficar quase do tamanho de um leão; queria ele para mim, mas não podia; pensei em dá-lo a minha mãe, que estava se mudando para Brotas, no interior de São Paulo.
Ela comprara e estava reformando uma casa com quintal, em
frente à praça central da cidade. Eu e minha irmã Lara íamos visitá-la, durante
a obra. Em Brotas, com minha mãe, King teria terra e cimento para andar, e
ainda seria companhia para dona Marlene, recém separada, numa cidade com poucos
amigos, nenhum parente. Para completar, ele guardaria a casa. Era o meu
pretexto. E eu o veria sempre - pelo menos, sempre que fosse para lá.
No fundo, eu também transferia a minha mãe todo o trabalho. Eu
era solteiro, livre para ir onde quisesse: por que iria cuidar de um bicho que no
futuro iria fazer cocô e xixi como um cavalo?
Tive mais certeza disso quando fiquei um tempo com ele
em casa, ainda pequeno, para ver como era, e dar a minha mãe quando a casa dela
estivesse pronta e o cão tivesse algumas vacinas. Quase fiquei louco. King escorregava,
riscava com as unhas o sinteco, batia com estrondo a cabeça nas portas. Eu não
sabia lidar ele, com suas travessuras, mais aquela alegria incontida quando eu
chegava em casa.
Ele era um relacionamento sério: dependia de mim e não me
largava um minuto. Eu trabalhava em casa, escrevendo, e ele me puxava pelas
meias, gania, pulava para chamar a atenção. Um dia, numa explosão de fúria, afastei-o
com um chute na cara; ele ganiu, gemeu e, para dor ainda maior do meu coração,
voltou e me lambeu o pé, como a dizer que em sua carência suportava tudo, até
aquela minha demonstração de destempero e suprema desumanidade.
Eu ainda não estava preparado para aprender a ser gente, com
um cachorro. Tão logo ele tomou a segunda vacina, levei o “presente” a minha mãe,
que ela aceitou também sem pensar muito.
Minha mãe adorava cachorros, paixão que passou para os
filhos. Levava na perna uma feia cicatriz deixada pelo Zorro, pastor
alemão preto, de olhos cor de laranja, cão que teve na infância, na Casa Verde.
Bravo, bravo, bravo.
Ao meu avô, deu muito trabalho; um dia pulou o muro e mordeu feio o Lolote,
filho do Orlando, um vizinho espanhol, que estranhou porque o menino corria na
rua, atrasado para chegar em casa. Mordeu feio também minha mãe, mas, por amor
ao bicho, ela o desculpava.
Mesmo adorando cachorros, minha mãe não tinha como criar o King. A cada visita,
mais de 400 quilômetros dentro de um carro, eu o via crescendo; com quatro
meses, estava maior que muitos cachorros, e ficou depois muito grande, mesmo para
um dogue alemão. Também por causa da pelagem, diziam que parecia um bezerro.
Talvez como ao filho, minha mãe não sabia discipliná-lo. Resultado,
King pulava em cima das pessoas, principalmente dela; não saía de casa, porque
minha mãe não tinha força suficiente para segurá-lo na guia; as coisas iam de
mal a pior. Vi o dia em que o cachorro acabaria por machucá-la e, não sem
tristeza, ela deixou que eu o levasse embora.

Eu havia comprado o sítio na serra da Mantiqueira com o
primeiro dinheiro que ganhei depois de me separar, saindo de casa com a roupa
do corpo. Tudo o que recebi do livro que fizera com o jornalista Fernando de Barros, sobre moda
masculina, troquei numa canetada por um pedaço de mato no alto de uma montanha pelo qual me encantei e parecia um bom remédio contra a angústia. Sem outro jeito, levei King para lá.
De Brotas para São Bento do Sapucaí, foram sete horas de carro. Um passeio tranquilo,
numa tarde ensolarada, na qual pela primeira vez fomos companheiros de jornada.
Depois de sair do casamento, eu vivia tão em crise que nem sabia explicá-la. Porém,
aquela mudança de ares – um sítio, um cachorro - já andava me fazendo bem.
Fazíamos algumas paradas, esticávamos as pernas, esvaziávamos a bexiga no mato
à beira da estrada: dois rapazes sem compromisso.
Deixá-lo no sítio foi uma dor de cabeça. Eliézio, o caseiro, que morava no sítio
ao lado, aceitou cuidar de King, dando-lhe comida; mas o cão tinha de morar na
obra, mudando de cômodo, à medida em que os pedreiros levantavam paredes,
cimentavam o piso, davam forma ao rancho.
Eu subia a montanha sacudindo na estrada poeirenta, que nos
dias de chuva virava uma ilha no céu, inacessível pela subida lamacenta,
especialmente num morro íngreme, em formato de S. Como bem havia alertado Tiãozinho
Neto, dono do bar que me vendera o pedaço de chão, no molhado não subia ali
“nem tatu ferrado”.
A antiga tapera, onde eu passara apenas uma noite dormindo
entre as aranhas, aos poucos mudava: dois quartos novos, banheiros de
azulejos hidráulicos que chegavam no meu carro, arriado quase ao chão. Agora, tinha o cão.
Era ainda o bicho indomável que eu trouxera da casa de minha
mãe; ansioso ao me ver, me recebia com mordidas insistentes nos braços, que
ficavam lanhados. As feridas depois inflamavam, por causa da baba; ele pulava na
gente, enfiando as patas enlameadas na minha roupa, na minha cara, quase me derrubando no chão; eu me perguntava se podia fazer o que minha
mãe não conseguira, ou se era tarde demais.
O mestre de obras, um senhor cheio de melindres, cansado
do King, o colocava para fora da casa em construção, apesar do meu pedido para deixá-lo
abrigado lá dentro. Certa vez, ao visitar a obra, num sábado, e perceber que o
homem estava deixando o cachorro dormir ao relento, ultimei que fizesse como eu
havia falado.
“Melhor esclarecer uma coisa”, eu disse. “Se eu tiver que
decidir entre o senhor e o cachorro, eu fico com o cachorro.”
(Eu era foda. Ainda bem que fiquei mais velho. E mais jeitoso)
King passou a dormir novamente na obra da casa, recém coberta. Depois, pedi ao
mestre de obras que fizesse um canil com uma cerca de arame do grosso. A
casinha de alvenaria ficou pequena e um forno: mandei fazer outra, de madeira.
As paredes de tábua permitiam um pouco de refrigeração;
o lugar não esquentava muito de dia, nem esfriava tanto à noite, como acontece
com a alvenaria.
O piso também era de madeira, recomendação de Zé Carlos, veterinário de São Bento:
o dogue, por seu tamanho, acaba criando bolsas calosas nos cotovelos
quando dorme apoiado num piso muito duro.
A segunda casinha do cachorro não merecia o diminutivo. Era tão grande que um adulto
podia entrar e ficar em pé lá dentro, um pouco inclinado. Maria, a vizinha, e
faxineira, foi ver a nova residência do King. Com as mãos de roça na cintura,
comentou, admirada: “O cachorro é rico!”
A casa ficou pronta e tratei de ensinar King a se comportar, o que
não era tarefa fácil. Comprei um manual de auto-ajuda, de um treinador alemão
(“Adestramento sem castigo”), para ver como podia lidar com aquele bichão.
Aprendi ali uma lição preciosa. Se o cão te incomoda fazendo algo, você tem que
fazer com que aquilo se torne para ele também um grande incômodo. Passei a usar
o joelho para detê-lo quando pulava na gente – um animal que, nas patas
traseiras, já ficava bem maior que um homem de boa estatura.
Tirei dele também a mania de, excitado com a minha chegada, morder os meus
braços – mordidinhas amigáveis, mas que me deixavam as feridas
infeccionadas. Passei a dar batidinhas em sua cabeça, como numa porta, quando ele me mordia. Depois de algum tempo, desistiu.
Logo, King se tornou um cão educadíssimo. Respondia a chamados, sentava, ficava
parado ao meu comando. Sobretudo, não pulava mais em ninguém, nem mordia. Mas
era bastante independente. Tinha personalidade própria. E opinião.
Afinal a obra ficou pronta. Era um lugar ainda de acesso dífícil,
onde o celular em sua rudimentar gênese (um Startac tipo flip flop, moderníssimo
para época) não pegava. Porém, eu tinha a casa na montanha, e um cão. Andávamos juntos pela mata, diante da paisagem
soberba, com o vale verde rodeado por picos que, de manhã, levantavam do lençol
de nuvens brancas; respirava ali o ar e a luz da liberdade.
Viramos grandes companheiros. Para chegar lá no alto, comprei um jipe Wyllis de
oito lugares (o "Bernardão"), quase uma peça de museu, mas com ele
descia e subia a montanha abaixo para passear com King na cidade ou nas estradas
de terra que serpenteavam a partir do que eu chamava agora de casa.
Fazíamos também longas caminhadas, de dia e de noite. Eu andava com ele preso à
corrente; aparecíamos nas festas da roça, caminhando pelas estrada de terra sob
a noite estrelada.
Logo percebi que ele podia ser também um sério perigo. Certa tarde, eu esperava
meu pai sentado no banco de concreto dentro do bar do Tiãozinho, na saída de São Bento para o bairro do Serrano. O cão estava sentado na minha frente. Por sorte, eu o mantinha seguro
pela coleira. Meu pai apareceu na porta do bar e veio na minha direção, para me
abraçar. King estranhou o homem vindo para cima de mim - saltou no ar e, no
trajeto, já virou a boca, para pegar meu pai pelo pescoço.
Como eu disse, por sorte eu o segurava pela coleira, um enforcador com anéis de
aço. Detive o cão quando já ia fechar a boca no pescoço do meu pai, que deu um
salto para trás e parou com um baque das costas num carro estacionado em
frente, na rua. Tiãozinho Neto, que estava no balcão, assistiu tudo. Nunca mais chegou
perto do cachorro.
Não era só no dono do bar que ele punha medo. Começava pelos cães da
vizinhança. Certa vez, um Weimaraner de bom tamanho, cachorro do Barrinha, que
eu visitava, rosnou para King. O dogue mal se mexeu: com uma pata, deu-lhe um
tapa na cara, como se fosse gente, e jogou o outro cão para longe. Foi o
bastante: nunca mais brigaram.
Ele punha medo também na vizinhança. Certo carnaval, encontrei-o magro,
inerme, depois de ter sido envenenado por alguém que não o queria mais ali
na montanha.
Durante quatro dias, eu o alimentei na boca, como a um bebê, com colheradas de
xarope de guaraná. Punha sua cabeçorra no meu colo e fazia com que sorvesse o
líquido pela língua, com dificuldade. Ele permaneceu três dias deitado ao lado
da porta de entrada; na quarta-feira de cinzas, se levantou, ainda cambaleante.
O envenenamento ligou o alarme. Eliézio fez algo
inteligente. Um dia, ao chegar, reparei que alguém havia cortado pelos do
cachorro, que tinha nas costas uma marquinha de tesoura. Para tirar o medo das
crianças, o caseiro tinha feito uma sopa de pelo de cachorro. Jogou os pelos na
água fervendo. Quem bebesse daquela sopa mágica, estava a salvo do cão. Assim,
a vizinhança ficou pacificada.
Mais, as pessoas do morro começaram a pensar que King cuidava de todos, ali,
botando medo nos estranhos, que, claro, não tinham tomado a sopa de pelo de
cachorro.
 Minha mãe o adorava: ficava companheiro dela, quando vinha
ao sítio. Minha irmã Lara, também sempre ali, igual. Era o nosso cachorro, e de
todo mundo.
Minha mãe o adorava: ficava companheiro dela, quando vinha
ao sítio. Minha irmã Lara, também sempre ali, igual. Era o nosso cachorro, e de
todo mundo.
King me ensinou muitas coisas, a mais fundamental delas a importância do amor e da comunicação sem palavras, que eu, como jornalista, até então valorizava demasiadamente. Percebi, com ele, que a palavra não era a intermediária para tudo. Nem é com palavras que escrevemos muita coisa, e sim com sensações e emoções.
Eu não conhecia a mim mesmo, meus sentimentos, bloqueado pelo esforço sempre profissional da palavra: a racionalização de tudo. Naquele plano, não podia resolver problemas afetivos, que só podiam ser resolvidos no plano afetivo.
Com aquele animal, que gostava de mim sem nada dizer, e me compreendia sem nada
ouvir, passei a entender melhor o que sentia, e a manifestar meus sentimentos
da mesma forma: sem palavras, sem prevenções, intermediários, o que equivale
dizer, sem medo.
Nós nos entendíamos e nos ajudávamos, principalmente diante de grandes e reais
perigos.
Certa manhã de domingo, andando no mato, entramos no sítio do Zé Janico, homem
que morava sozinho no alto da montanha e que, picado de cobra no pé,
internado na cidade, tinha deixado ali a casa e um burro bravo, sem cuidados.
Eu não sabia que o burro estava ali, um lugar ermo, com uma casa que mais
parecia um galpão enfiado no mato. Caminhava para a porteira, quando vi King
sair correndo de trás da casa, e o burro atrás dele, para pegá-lo de manotada.
Era um burro cinzento e poderoso, com o qual Janico puxava o cadáver
das vacas que caíam do despenhadeiro no ribeirão, um lugar íngreme e fundo. Corri para a porteira, passei
para o lado de fora. King começou a correr em círculos, com o burro atrás, tão
perto, que o cão não tinha tempo de agachar-se, para escapar por baixo da cerca
de arame.
Eu o chamei pelo nome. Ele veio. Abri a porteira e deixei espaço apenas
suficiente para ele passar. Só vi uma coisa branca zunindo a meu lado, como um
raio, e bati a porteira.
No mesmo instante, o baque: o burro brecou nas quatro patas e estava tão em cima
que bateu com o peito na porteira, na minha frente - pude sentir o seu bafo.
Saímos dali os dois, eu e o cão, ofegantes, eu com as pernas trêmulas e o
coração quase saindo pela boca.
Um dia, andando também pelo mato, sem a corrente, ele entrou a brincar num
chiqueiro de porcos, mas, em vez de divertir-se, os porcos o atacaram. Nada vi,
pois todos estavam atrás de uma grande pedra. Só ouvi uma gritaria de porco.
Depois, fiquei sabendo de outro matuto, dono do chiqueiro, Zé Tida, que King
havia levado uma corrida dos porcos, revidara e tinha dado uma mordida que arrancara um
pedaço das costas de um cachaço.
O bicho não morreu, apesar da febre. Dali em diante, porém, King passou a não gostar de
porco - corria atrás de todos o que encontrava pela frente, e para matar. Tive
que passar a andar com ele seguro pela corrente sempre.
Num dia em que achei que podia deixá-lo andar sozinho, sumiu atrás de um porco
que viu ao longe - e de repente, desapareceu, como por mágica.
Fui atrás do vizinho mais próximo, Tiãozinho Costa, pedindo ajuda. Ele me guiou
até uma caverna, que ficava embaixo de uma pedra: tão grande que parecia uma capela
subterrânea.
De um lado, havia um fosso, um buraco que levava à superfície. O
porco tinha caído ali por aquela abertura e o cão mergulhara atrás dele. Aquela tinha sido a mágica
do desaparecimento.
Achamos o porco no fundo da câmara, deitado, imóvel, em silêncio, sobre uma plataforma de terra que parecia um altar. Chegamos perto, devagar, porque o bicho podia
estar ferido, e brabo. Estava, contudo, morto.
O porco pertencia ao Pé de Ferro, apelido de outro vizinho, que morava mais
acima, no fim da estrada, alto na montanha. Ele trouxe um maçarico ligado a um
botijão de gás, queimou a pele do porco e distribuiu os pedaços à vizinhança.
Não comi nada, sem estômago, mas o porco, tive que pagar inteiro.
Cansei de pagar por bichos, depois disso, por causa do cachorrão. Certa vez, King
juntou-se a um bando de cachorros que seguiu uma cadela no cio, até uma fazenda
de carneiros, já na virada da serra para Gonçalves, longe. Ficou uma semana sem
voltar. No sábado, quando cheguei, e o caseiro Eliézio me avisou do seu sumiço,
fui procurá-lo. O funcionário da fazenda me levou por um pinheiral
onde se avistavam no chão pedaços de carneiros espalhados por todos os lados -
pernas, cabeças, coisas assim.
- A gente já tinha visto ele com você, por isso não atiramos - disse o homem. -
Mas ninguém teve coragem de chegar perto dele.
Achei o cachorro na matilha, simplesmente passei a guia na coleira e o levei
embora. Lembro de quanto paguei à dona da fazenda: 60 reais cada um dos nove
carneiros mortos. Na época, era um bom dinheiro.
King não havia comido
nenhum carneiro. Quando parei o carro na igreja da Sagrada Família, para lhe dar água,
seu estômago fazia barulho: estava colado, de fome. Porém, como era o cachorro
maior, os outros não tinham dono, e era dele que tinham medo, recaiu a conta
sobre mim.
Dali em diante, King passou a pegar vacas, bichos maiores. Um dia, numa estrada vicinal,
topamos com um burro velho de um vizinho que encarou a gente, bufou, não nos
deixou passar. Eu estava com King na coleira, soltei, ele entrou pelo mato e
sumiu. O burro entrou no mato atrás dele.
Segui caminhando. Entrei na estrada principal, comecei a descer a ladeira, num
lugar onde a estrada tinha um barranco alto, à direita, e uma cerca de arame
farpado, à esquerda. Ouvi um barulho, e lá de cima, vindo morro abaixo pela
estrada, corria o cachorro, perseguido pelo burro. Fui para o lado da estrada e
rolei por baixo da cerca de arame, para sair do caminho.
Testemunhei, então, uma impressionante cena de caça, que durou um piscar de
olhos. Quando King passou na minha frente, fugindo do burro, de repente deu um
salto e voou para o alto do barranco, bem na minha frente, do lado oposto da estrada. Câmera lenta: o burro, surpreso, tentou
brecar, arrancando a poeira do chão com as patas. Enquanto se arrastava ladeira
abaixo na brecada, virou a cabeça para o barranco, procurando onde o cão
estava. Nesse instante, o caçador virou caça. King, do barranco, completando
uma manobra de tigre, caiu sobre o burro como uma fera, fechou a boca no
pescoço do burro, derrubou-o no chão e ali o deixou pregado.
Logo vi que o mataria - era uma questão de tempo. Corri até o cachorro, que
tinha o burro dominado, passei a corrente de ferro pela coleira e tentei
puxá-lo, tirando-o do pescoço do animal. Porém, ele não se moveu. Eu nem sabia
que tinha aquela força: naquele frenesi, puxei de tal forma que a corrente de aço rebentou na
minha mão.
Fui buscar ajuda, de novo. Quando voltei com vizinhos, da família de Barrinha,
porém, não havia nada na estrada: nem burro, nem cachorro. Achei King pouco
depois: tinha ido beber água num regato, pescoço empapado com o sangue do
burro. Este era velho, e esperto. Fingira-se de morto. Quando o cachorro foi
embora, fugiu tropegamente até o fim da estrada: foi encontrado, semimorto, lá
embaixo, no vale, tropicando pelo asfalto.
Como eu tinha comprado uma casa no Morumbi, em São Paulo, quis levá-lo para lá.
King guardaria a casa e lá não mataria nenhum bicho, pensei. Engano. Acostumado
a viver livre, andava estressado e atacava as visitas, como os padrinhos de meu
filho, que tiveram de correr dele, e amigos. Tive de levá-lo de volta para o
sítio. Comprei uma cadela para tomar conta da casa e, quem, sabe, cruzar com
ele, para termos filhotes.
A cadela tinha a mesma pelagem arlequim. Mel ficou o seu nome, por conta da cor
dos olhos. Uma vez, eu a levei para o sítio, de modo a conhecer King e
movimentar-se no espaço maior. Só não pensei que Eliézio, o caseiro, estava
acostumado a entrar ali sem pedir licença. E não sabia que Mel estava por lá.
Quando abriu o portãozinho da entrada, Mel o viu. Disparou como uma seta na
direção do caseiro. E deu o salto, virando a cabeça já no ar, para pegá-lo pelo
pescoço.
King também viu Eliézio entrar. E Mel correr na direção do caseiro. Parece
mentira, mas foi exatamente isto o que aconteceu.
King, que estava bem mais longe, num baixio do terreno, arrancou na direção do
caseiro. Quando Mel se projetou no ar, a boca virada para apanhar Eliézio pelo
pescoço, King também saltou. Com seu corpanzil de mais de 90 quilos,
interceptou Mel no ar, jogando-a longe com uma trombada. Ela caiu rodopiando no
gramado, sem entender o que tinha acontecido. Viu King, que Eliézio tratava
todos os dias. Ele então olhou para ela e emitiu um bufo, uôuf! - como a dizer:
"este não".
Era isto o King: um herói. Não sei de onde ele havia tirado aquela índole, mas
era um ser admirável.
Tinha também um estranho sexto sentido. Aos sábados, eu chegava por volta das
duas da tarde, pois trabalhava na sexta até a madrugada de sábado e, ao
acordar, partia para a casa do mato. Encontrava King na estrada, sentado sobre
uma pedra, à minha espera.
- Ele fica sempre aí? - perguntei ao Eliézio.
- Não. Ele sobe nessa pedra sempre às duas da tarde de sábado, a hora que você
chega, e fica esperando.
- E como ele sabe que é sábado e duas da tarde?
- Não tenho ideia.
Aquilo fazia parte da minha vida, e me fez falta no ano que passei morando em Nova
York. Quando voltei, éramos os mesmos - ou quase.
Cachorros grandes ficam velhos mais cedo, e King estava já indo para o final da
vida.
Passou a sofrer alguns problemas. Teve um tumor na bolsa escrotal; os veterinários
queriam extirpar toda sua genitália. Não deixei. Achei que ele podia viver com
mais qualidade com uma cirurgia menor. Viveu mais um ano, depois disso, e
morreu de velho, numa quinta-feira, quando eu estava em São Paulo.
Nesse mesmo dia, minha mulher, grávida de nove meses, teve contrações. As
contrações pararam e o médico disse ter sido alarme falso. Passou uma semana e
eu estava preocupado. Para mim, o cão tinha aquele estranho sexto sentido e eu
acreditava que sabia das coisas. Tinha morrido na quinta-fera, dia justamente
das contrações, porque o menino estava nascendo, como quem diz: "você já tem companhia, agora eu posso ir embora".
Mas o menino não tinha nascido.
Passada uma semana, eu estava preocupado com aquele atraso. No exame de rotina, sentado ao lado do médico, olhando a imagem
do ultrassom da criança, projetada em uma tela na parede do consultório, eu disse que havia algo errado. Não expliquei ao doutor Eduardo que achava isso por causa do cachorro, é claro.
O médico, olhando a imagem, balançou a cabeça.
- Não tem nada de errado, segundo a imagem - disse. - Porém,
se você está preocupado, vamos ao hospital tentar induzir o parto.
Foi o que fizemos. À uma da tarde, no mesmo dia, eu estava no hospital com
minha mulher. Ela deitou numa maca, instalaram eletrodos para medir seus
batimentos cardíacos, assim como os da criança.
Tomou os remédios para acelerar contrações - a indução do parto. O que era um
procedimento de rotina, porém, de repente virou emergência. Cada vez que ela
tinha uma contração, de 180 os batimentos cardíacos do bebê caíam a 60, 40...
O médico foi chamado às pressas e realizou a cesariana. Nunca passei tanto medo
na vida. Vi quando ele abriu a barriga, camadas e camadas, e de lá do fundo
puxou a criança. Por trás da máscara azul, ele então sorriu amarelo, ou assim o
imaginei, quando puxou o cordão umbilical, enrolado no pescoço da criança, como
um elástico.
- Ele não tem nenhuma sequela, mas no fim foi bom termos feito o procedimento,
porque assim ele poderia entrar em sofrimento - disse.
O problema não aparecia na imagem, mas eu o pressentira, alertado, de um jeito
talvez meio espírita, pela morte do cachorro. Na quinta-feira, era para ter
acontecido o parto - mas o cordão impedia o bebê de ser empurrado para a saída,
segurando-o pelo pescoço. A cada contração, o cordão o enforcava.
Por pouco, não ocorrera algo grave. Eu pensava que aquilo tinha sido o sinal de
King, ele sabia que aquele era o dia do bebê nascer. Graças a este sinal, eu
havia insistido em levar a mãe de meu filho ao hospital. A criança estava a
salvo, e, a meu ver, quem a salvara tinha sido o cachorro.
Pode rir ou duvidar. Eu, estou convicto.
Pelo celular, quando soube da sua morte, eu pedira a Eliézio para enterrar King
num lugar que eu jamais saberia. Ainda hoje não gosto de pensar que ele morreu.
Prefiro acreditar que está vivo, presente, um espírito do bem a nos guiar - a
mim, seu amigo, e meu filho, a quem penso ter transferido o amor dele por mim.
Um amor maior, que não precisa de palavras, onde o heroísmo
está sempre presente e que eu carrego comigo por montanhas acima das nuvens.